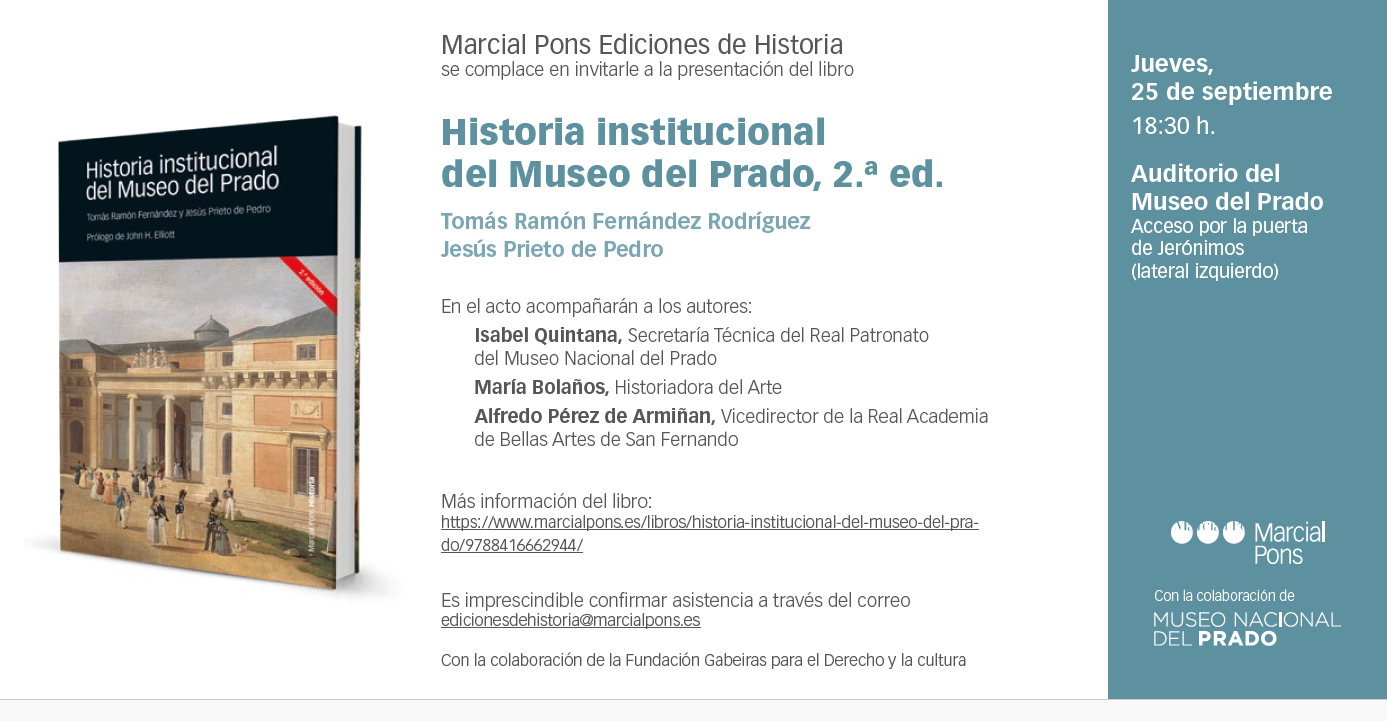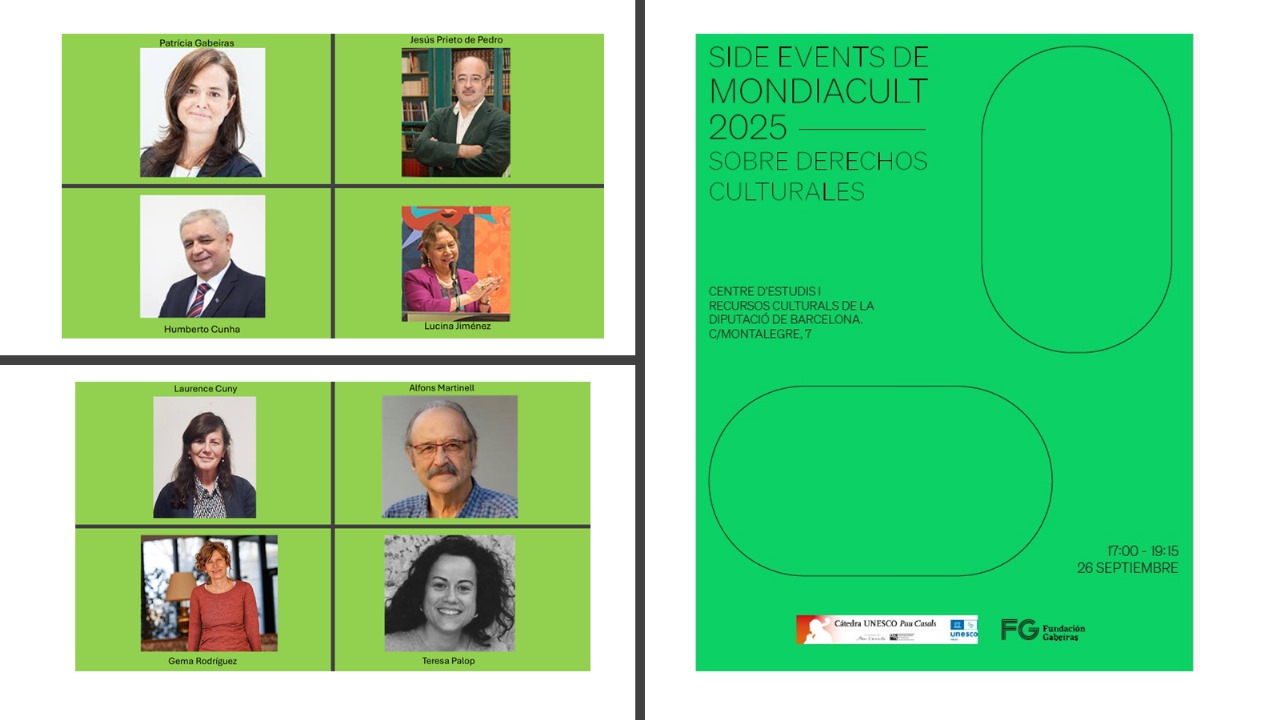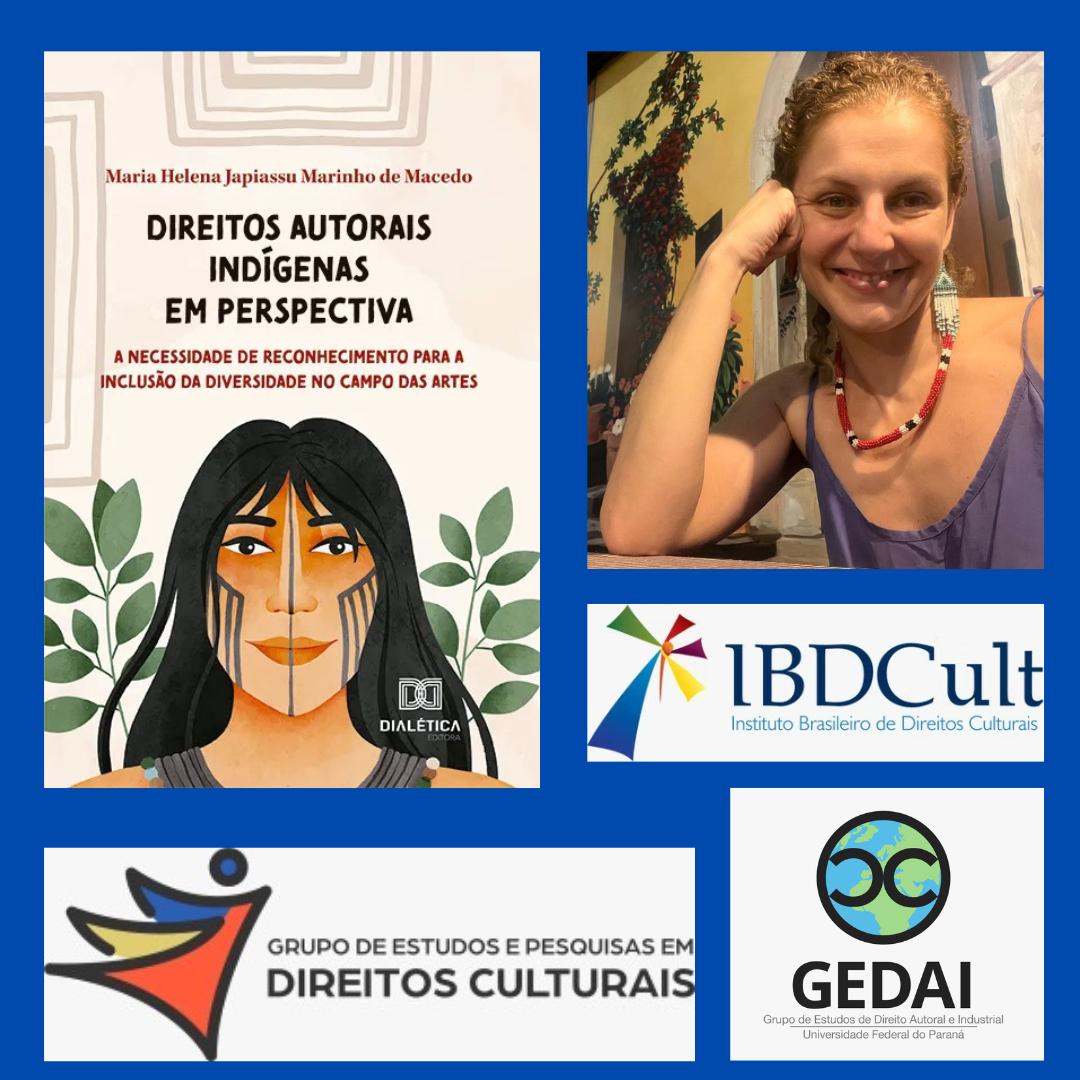NÓS BAMBEIA, MAS NÃO ARREIA
Confira o prefácio feito pelo Professor Humberto Cunha Filho para o mais recente livro de Renê Iarley da Rocha Marques, uma publicação da Dialética, de 2024.
***
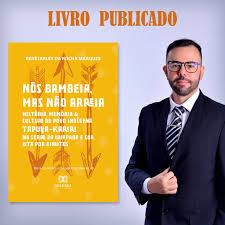
***
PARA ALÉM DE IRACEMA
*
A primeira vez que tive contato com a palavra “Ibiapaba”, eu ainda era um menino que, fazendo a lição de casa, estava a ler “Iracema”, de José de Alencar, poema-romance no qual o escritor, para introduzir o contato do homem branco português (especificamente, Martins Soares Moreno) com os povos originários, fez saber que “as tribos tabajaras, d’além Ibiapaba, falavam de uma nova raça de guerreiros, alvos como flores de borrasca, e vindos de remota plaga às margens do Mearim”.
*
Essa mesma leitura me pôs em contato mais formal com a característica de acolhimento dos cearenses, ao me deleitar com a informação de que, em favor do hóspede, “Iracema, acendeu o fogo da hospitalidade; e trouxe o que havia de provisões para satisfazer a fome e a sede: trouxe o resto da caça, a farinha d’agua, os frutos silvestres, os favos de mel e o vinho de caju e ananás”.
*
Mal sabia que, na plenitude da minha maturidade, eu próprio me encontraria com um outro guerreiro, desta feita, não um visitante, mas um morador da Ibiapaba, um homem universal que optou por focar sua vida, seu trabalho, seus estudos, sua arte e suas preocupações para com as questões da também chamada Serra Grande. Em síntese, trata-se de alguém que resolveu seguir um dos mais belos conselhos que Leon Tolstoi deu à humanidade: “se queres ser universal, canta a tua aldeia”.
*
Renê Iarley da Rocha Marques poderia, literalmente, cantar o povo indígena ibiapabano, o Tapuia-Kariri, que escolheu como estudo de caso, pois é músico que integra a Sed Lex Band, grupo musical que atua no norte do Ceará, cuja designação mescla palavras latinas e anglo-saxônica, o que mais uma vez promove a aproximação do local com o universal.
*
Se não cantou, deu voz a uma população que luta para ver reconhecida a si, por direito e justiça, a propriedade ou, em palavras mais exatas, a posse mansa e pacífica sobre a terra que ocupa ancestralmente, bem como a possibilidade usufruir plenamente dos seus direitos culturais. Fez isso de uma forma diferenciada que, ao gosto de sua aptidão artística, lembra uma polifonia na qual seus conhecimentos de Mestre em Direito, Especialista em Filosofia do Direito e Bacharel em Ciências Sociais estão aplicados e perceptíveis na investigação que ora chega ao público.
*
O roteiro que usa é tão singelo quanto eficiente: principia o estudo com o olhar do cientista social, apresentando mais do que um resgate histórico, evidenciando o lastro valorativo e afetivo que permite a auto e a heteroidentificação do povo pesquisado. Continua com a descrição dos bens de natureza coletiva que são as matrizes dos direitos culturais comunitários, indo da associação, passando pela escola e chegando a lugares memoriais, os “Buracos dos Tapuyas”, certamente o símbolo mais forte que torna materialmente compreensíveis expressões como “gente da terra” e “povos autóctones”, porque evoca a lembrança e a imagem imaginada dos spartoi helênicos, guerreiros que eram literalmente paridos por Gaia, a Mãe Terra.
*
Daí em diante entra em cena o jurista, que descreve e depois analisa o processo, tão cheio de filigranas e adiamentos, próprios de um país que à exaustão profere a palavra democracia, mas, contraditoriamente a isso, já tem séculos que faz de tudo para retardar o reconhecimento de direitos aos menos favorecidos.
*
O capítulo conclusivo é reservado ao protagonismo do culturalista, que se dá a missão de refletir sobre a terra indígena Tapuya-Kariri como direito e recurso cultural, ambos emanados da própria Constituição Cultural do Brasil, cujo artigo 231 não deixa dúvida: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
*
A adesão do autor à causa do povo Tapuya-Kariri, porém, decorre de uma convicção que extrapola as regras de direito positivo; assenta-se na sempre renovada presença de um idílico direito natural, permeado pela ideia de justiça, pois possuir a terra, no caso, é algo que possibilita, sim, um espaço para viver e trabalhar, mas que vai muito além: viabiliza à comunidade e aos seus componentes o pleno exercício dos direitos culturais.
*
Longe de ser um ato de divisionismo, algo preocupante nestes temerários tempos de apartação social, garantir aos Tapuya-Kariri a terra para viver e trabalhar permite a prática da solidariedade, tal como pôde ser visto na ficção de “Iracema”, termo genialmente criado por Alencar, a partir de um anagrama da palavra “América”, com a diferença de que o povo da Ibiapaba poderá vivenciar uma vida mais digna, fraternal e hospitaleira no palco da realidade.
*
Fortaleza, 22 de junho de 2024.
*
Francisco Humberto Cunha Filho
Professor do PPGD/UNIFOR
Advogado da União
Veja mais